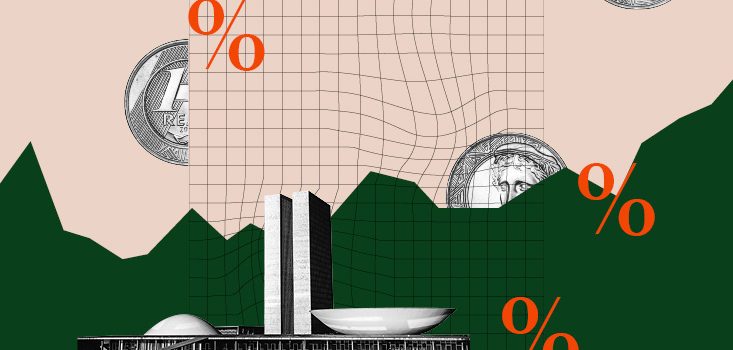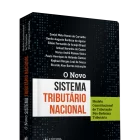Tínhamos viajado pouco após a pandemia. Este ano a família fez quatro viagens aéreas e ficamos impressionados com o quanto a desregulação do setor afetou a qualidade e o preço do serviço. As passagens estão caríssimas. E os passageiros passaram a sofrer abusos inimagináveis.
Reservar lugar em um voo com antecedência se tornou algo arcaico. Depois que a “ineficiência do Estado” deu lugar à “magia do mercado”, a prática foi praticamente abolida. Hoje a reserva dura 24 horas, a não ser que a passagem seja quitada com antecedência.
Nem assim o passageiro é respeitado. Eu havia marcado e quitado, com meses de antecedência, cinco passagens no voo direto Brasília-Curitiba. Dias antes da viagem fui informado que o voo havia sido cancelado pela Gol. Eu e a família seríamos transferidos para outro voo, em outro horário, com escala em Congonhas e troca de avião.
A viagem aérea de duas horas foi esticada para seis horas. E teríamos que chegar ao balcão da empresa com duas horas e meia de antecedência. Moro em Brasília há cinco décadas e nunca tinha feito voo com escala para uma capital estadual. Se eles tivessem dito antes que o voo era com escala eu não teria comprado a passagem.
No dia da viagem, tivemos que levantar da cama às 4h30 da madrugada. Só fomos chegar ao resort, na cidade paranaense de Lapa, às 15h30. Teríamos perdido a hora do almoço, incluído no pacote, se o resort não tivesse aberto uma exceção para nós. Mas perdemos o transfer gratuito para a Lapinha. Tivemos que pagar 150 reais por pessoa pelo transporte do aeroporto ao resort.
Adivinhem se fomos indenizados pelo cancelamento do voo direto pela Gol.
Quando é o passageiro que não cumpre o combinado, a punição é draconiana. Ano passado perdemos um voo da Latam porque chegamos ao aeroporto 90 minutos antes do voo — que não era internacional. Era um voo para Maceió. Mas os tempos são outros. Hoje o passageiro que quiser despachar mala tem que pagar extra pela mala e se apresentar com duas horas e meia de antecedência. Perdemos o voo e parte substancial do que tínhamos pago. Se a passagem for adquirida com pontos Livelo e o cancelamento se der no dia da viagem, a multa é de 80%.
O mercado de passagens aéreas nacional é um oligopólio dividido entre três empresas: Azul, Gol e Latam. Juntas elas respondem por 98% do mercado, cada uma com participação de aproximadamente um terço. Antes o governo regulamentava o preço das passagens, o que, segundo um articulista da grande imprensa, gerava “ineficiências”.
Hoje o mercado é “eficiente”. As empresas fazem o que bem entendem e cobram o que bem entendem. A “eficiência do mercado” aumentou muito nos governos Temer e Bolsonaro, quando a ANAC, agência reguladora, praticamente deixou o oligopólio Latam-Gol-Azul se autoregular.
O oligopólio desregulado baixou os preços como os doutrinadores previam? A exclusão da mala do preço da passagem reduziu o preço para quem viaja sem mala?
Não baixou. Surpresa zero para mim. Vocês conhecem algum caso de oligopólio que tenha baixado os preços após ser desregulado? Conhecem algum caso de monopólio público privatizado que tenha baixado os preços? Existe rica literatura técnica sobre o assunto, e ela mostra que monopólios e oligopólios maximizam lucros aumentando os preços.
Um amigo gaúcho que mora na Europa ficou chocado com o preço da viagem de 40 minutos entre Porto Alegre e Florianópolis. Segundo ele, custou mais de quatro vezes o preço da viagem de quatro horas entre Londres e Biarritz (que ele compra quando visita os filhos).
Sou um passageiro das antigas. Gosto de reservar viagens falando com um ser humano. Ainda telefono para uma agência de turismo. A Flávia, meu contato da agência de turismo Link Tour, me informou que hoje os passageiros, além de pagar pelo despacho das malas, têm que pagar pela marcação dos lugares na aeronave. Ou seja, temos que pagar mais caro pelas passagens, ficamos mais tempo de castigo no aeroporto e temos que arcar com despesas não incluídas no preço inicial. Hoje os extras, que eram gratuitos, perfazem em média 20% do custo da passagem aérea.
Este é o capitalismo do Estado Mínimo que os ultraliberais — Jair Bolsonaro e Michel Temer — conseguiram nos impor, pelo menos em parte. E que Fernando Haddad tenta combater com timidez, pois ele morre de medo de ser acusado de populista pelos colunistas da grande imprensa.
Leio nos jornais que as empresas privadas brasileiras não desejam para si o liberalismo que apregoam. Em quase todos os setores, seus representantes estão mobilizadas para exigir subsídios e regalias do Estado. No caso das empresas aéreas, elas alegam estar tendo prejuízos em razão do encolhimento do mercado (que elas mesmas produziram, ao aumentar os preços). No fundo querem subsídios sem contrapartidas. Em vez de um Estado de Bem-Estar Social, elas querem um Estado de Bem-Estar Empresarial.
Quem melhor definiu o Estado Mínimo foi André Roncaglia, colunista da Folha: “o Estado mínimo dos neoliberais é o Estado máximo para o mínimo de pessoas.” Achei a definição perfeita. Vocês conhecem algum empresário amigo de Bolsonaro que não estava sonegando impostos e mamando nas tetas do governo?
Não foi este o capitalismo que conheci nos Estados Unidos quando morei lá. Residi nos EUA entre janeiro de 1980 e junho de 1982. Fiquei encantado com o quanto o capitalismo americano era regulamentado pelo Estado e inclusivo.
Em 1980, os trabalhadores americanos tinham estabilidade no emprego, os sindicatos eram fortes. Os consumidores eram respeitados. Franklin Roosevelt, o maior presidente americano da história, realizou nos anos 30 reformas de verdade, em defesa dos trabalhadores e combatendo os abusos do mercado. As reformas de Roosevelt deram início a quatro décadas de crescimento robusto, com estabilidade econômica e elevação dos salários.
Na verdade, a regulação dos oligopólios e monopólios antecedeu Roosevelt. Nos EUA, oligopólios e monopólios eram regulamentados pelo Estado desde o século XIX. Os tempos eram outros, os políticos eram menos reacionários. Até o partido Republicano era progressista. Richard Nixon se declarou keynesiano e, durante sua gestão, ampliou os direitos sociais.
Em 1981 teria início a gestão de Ronald Reagan, o primeiro de uma linhagem de mentirosos carismáticos que prometiam “tirar o Estado das costas do contribuinte”. No entanto, todos eles — Reagan, Thatcher, Pinochet, FHC, Temer e Bolsonaro — tornaram o padrão de crescimento mais lento e mais concentrador de renda. E, como cereja do bolo, todos eles aumentaram os déficits públicos e as dívidas públicas.
Os anos 80 foram um divisor de água. A doutrina da magia do mercado foi se tornando hegemônica. Desde então o crescimento econômico se tornou mais lento, mais concentrador de renda e mais propício a crises financeiras. A brutal concentração de renda foi tornando o Primeiro Mundo menos democrático. Os sindicatos foram perdendo espaço ano a ano.
As mudanças pós-1980 afetaram especialmente a América Latina, que era uma das regiões mais progressistas do pós-Guerra. Sob a influência formal ou informal do consenso de Washington, a região foi privatizando tudo e desregulando tudo. Hoje é uma das regiões mais decadentes do mundo. Brasil e México, dois tigres econômicos do pós-Guerra, foram transformados em tartarugas.
Meu desabafo fica por aqui. O mercado de passagens aéreas é um triste retrato do Brasil que nos foi legado pelos ultraliberais. A “magia” do mercado, se é que existe, não beneficia os “muggles” ou “trouxas”, que somos nós, trabalhadores e classe média. Ela só beneficia os poderosos, ou a turma do Voldemort.
Petronio Portella Filho
As opiniões emitidas e informações apresentadas são de exclusiva responsabilidade do/a autor/a e não refletem necessariamente a posição ou opinião da Alesfe