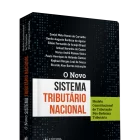Consultoria de Orçamentos do Senado analisa MP que autoriza prorrogação de contratos do Ministério da Saúde
Em nota técnica, a Consultoria de Orçamentos do Senado Federal analisou a Medida Provisória (MP) nº 1.215, que sanciona a prorrogação de contratos por tempo determinado do Ministério da Saúde.
A MP autoriza que o Ministério da Saúde prorrogue até mil setecentos e oitenta e seis contratos, por tempo determinado, de profissionais de saúde para exercício de atividades nos hospitais federais e nos institutos nacionais no Estado do Rio de Janeiro.
Acesse a íntegra da nota: https://www12.senado.leg.br/orcamento/documentos/estudos/tipos-de-estudos/notas-tecnicas-de-adequacao-orcamentaria-e-financeira/mp-1215-2024-nota-tecnica-no-13-2024.pdf